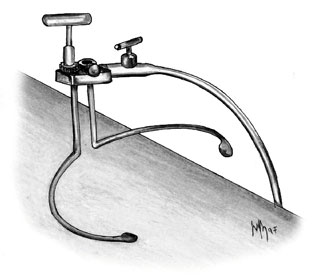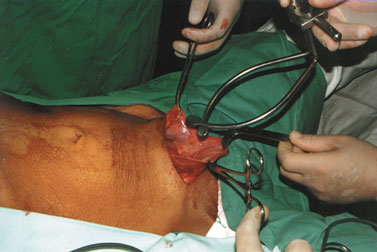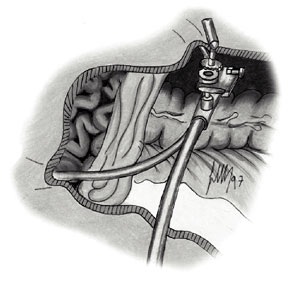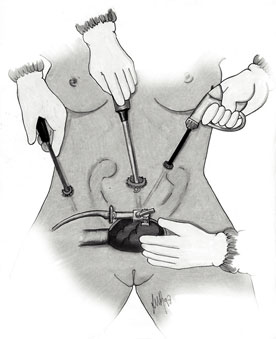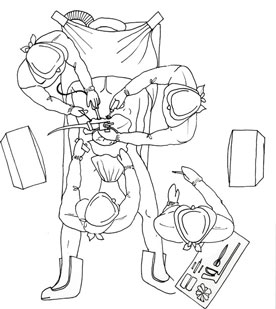|
|
Órgão Oficial de Divulgação Científica da
|
ISSN: 1679-1796
|
Cirurgia Laparoscópica Vídeo-assistida com Acesso Manual Combinado: Estudo Randomizado Comparativo com Laparotomia *
Laparoscopic Hand Assisted Surgery: Comparative Randomized Study with Laparotomy
João de Aguiar Pupo Neto1, Domingos Lacombe2
Disciplina de Coloproctologia, Curso de Pós-graduação, Departamento de Cirurgia, UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil
RESUMO
OBJETIVOS: O estudo pretende demonstrar a viabilidade técnica e as vantagens clínicas da
cirurgia vídeo-assistida com acesso manual combinado
na cirurgia colo-retal. Nesta proposta, os autores empregam um elevador mecânico de parede
abdominal que permitiu a vídeo-cirurgia com acesso manual,
sem a necessidade do pneumoperitônio. MATERIAIS
E MÉTODOS: O dispositivo - um afastador
mecânico elaborado pelos autores - foi desenvolvido no
Setor de Cirurgia Experimental do Departamento de
Cirurgia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em
1995, visando a elevação da parede abdominal de forma
a permitir os tempos vídeo-assistidos com auxílio da
mão. Um estudo comparativo randomizado foi realizado
na Disciplina de Coloproctologia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, a fim de determinar as
vantagens clínicas da técnica sobre a cirurgia laparotômica.
Entre Janeiro de 1995 e Outubro de 1998 foram
operados trinta e quatro (34) pacientes portadores de
câncer colo-retal, divididos em dois grupos (A e B) e
avaliados clinicamente em seguimento pós-operatório de 30
dias. No Grupo A, foram incluídos 17 pacientes
submetidos à cirurgia laparoscópica vídeo-assistida com
acesso manual combinado. No Grupo B, foram incluídos
17 pacientes submetidos à cirurgia laparotômica. Na
maior parte dos casos do Grupo A foi empregada uma
incisão a Pffaniestiell, medindo cerca de 7.5cm. Dois tipos
de cirurgia foram realizados: a ressecção anterior de
reto e a amputação abdomino-perineal de reto.
Foram estatisticamente analisadas variáveis pré, per e
pós-operatórias. RESULTADOS: A técnica permitiu
um inventário da cavidade mais detalhado. A
perda sanguínea foi menor no Grupo A, assim como a
re-introdução de dieta oral e retorno de peristalse
foram mais rápidos. Houve dor pós-operatória menos
intensa neste mesmo grupo, e as complicações clínicas
e operatórias que ocorreram foram de menor
gravidade. CONCLUSÕES: A técnica laparoscópica com
acesso manual combinado e sem pneumoperitônio, através
do emprego de dispositivo especial para elevação
da parede abdominal, apresentou vantagens clínicas
pós-operatórias imediatas sobre o método
laparotômico, nas cirurgias de câncer colo-retal.
Palavras-chave: LAPAROSCOPIA/métodos/instrumentação
/efeitos adversos; CIRURGIA COLORRETAL/métodos;
NEOPLASIAS COLORRETAIS/cirurgia; CÓLON/cirurgia; RETO/cirurgia;
ESTUDOS PROSPECTIVOS/Rio de Janeiro.
PUPO NETO JA, LACOMBE D. Cirurgia laparoscópica vídeo-assistida com acesso manual combinado: estudo comparativo com laparotomia. Rev bras videocir 2003; 1(2): 60-70.
cirurgia laparoscópica dos cólons
apresenta algumas dificuldades técnicas que a levaram a
se difundir de forma mais lenta que outros pro-cedimentos laparoscópicos como a
colecis-tectomia, a apendicectomia e a hernioplastia. Uma
das dificuldades relaciona-se à posição dos cólons
que, por ocupar várias regiões do abdome, exige um
maior número de portas e a freqüente troca da ótica e
das pinças durante a cirurgia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 Adicionalmente, é necessário um grande número de
ligaduras vasculares, muitas vezes de grosso calibre
2, 3, 6, 7, 9, além de uma incisão adicional para a retirada
do órgão da cavidade, na maioria dos casos.
1, 2, 4, 10
Outro fator limitante é a impossibilidade
de palpação, para avaliação oncológica da lesão e
de outros órgãos, nas cirurgias para tratamento
do câncer. 1, 3, 4, 7, 11 ,1 2, 13 , 14
Para a realização de
procedimentos laparoscópicos colorretais verificou-se a
importância da curva de aprendizado, sendo relatado em
diversos trabalhos a diminuição de complicações após
50 cirurgias realizadas.6, 8, 15, 16, 17,
18 O treinamento nas cirurgias de cólon em videolaparoscopia é,
portanto, mais demorado além de
complexo.19
Se fosse possível a introdução de uma
das mãos na cavidade, poderiam ser minimizadas
as dificuldades técnicas do método laparoscópico
puro, de forma a permitir algumas vantagens, tais como:
a) vantagens da laparoscopia cirúrgica
- pequenas incisões, diminuição do tempo de
íleo paralítico e redução do tempo de internação;
b) vantagens da cirurgia aberta -
palpação dos órgãos, facilidade na mobilização e
afastamento das alças, além de segurança na ligadura dos vasos.
No trabalho Laparoscopic assisted minilaparo-tomy with
colectomy, OU (1995)20 descreve uma
técnica de cirurgia, empregando o auxílio da mão dentro
da cavidade, a qual permanecia presa à parede
abdominal (através de uma sutura na aponeurose) como
forma de impedir que a saída do
CO2.
PAOLUCCI e cols. (1995)21 também
des-creveram técnica semelhante. Neste mesmo
ano, KUSMINSKY e cols. (1995)22 publicaram
sobre técnica de esplenectomia com acesso
manual (laparoscopic hand-assisted). Outro
trabalho publicado sobre o assunto foi o de BELMELMAN
e cols. (1996)23 que mostrou o uso de um
protetor plástico na mão (Pneumo
Sleeve) com o objetivo de evitar a saída do
CO2. Estes trabalhos enfatizam a importância da palpação nas cirurgias
argumentando que, com isto, é possível determinar com
maior precisão a extensão e o grau de infiltração da
lesão, além de facilitar as dissecções com os
dedos, justificado pela educação tátil que o cirurgião
ganha em suas mãos com o tempo.19
SCOTT e DARZI (1997)24 divulgaram técnica operatória com o uso associado da mão
nas cirurgias laparoscópicas dos cólons comentando
sobre a grande vantagem que a habilidade manual oferecia, quando associada a
videolaparoscopia. Relatam, em especial, facilidades como a
palpação do tumor, de eventuais metástases hepáticas e
da identificação dos vasos em mesocólons espessos,
além de assegurar o afastamento das alças, facilitar o
uso da tesoura e grampeadores, admitindo melhor identificação dos planos cirúrgicos.
A fim de permitir a livre introdução da
mão na cavidade abdominal, a elevação mecânica
da parede proposta neste estudo mostrou ser a
melhor forma de manter o afastamento das alças,
evitando as dificuldades de se trabalhar com o
pneumo-peritônio com CO2, assim como seus efeitos
inde-sejáveis. 21, 25, 26, 27
MATERIAIS E MÉTODOS
Desenvolvimento Técnico de Afastador
O desenvolvimento do afastador foi realizado no Setor de Cirurgia Experimental
do Departamento de Cirurgia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, a partir de Fevereiro de
1995. Diversos modelos foram experimentados em
animais. Os primeiros modelos do afastador eram
tracionados através de cabos presos em suportes no teto.
As correntes, contudo, dificultavam a mobilização
das pinças e da ótica, além de apresentarem
necessidade de regulagem sempre que se mudava a posição
da mesa operatória. A seguir, novos desenhos
foram realizados e os modelos finais foram feitos de
forma a ser possível sua fixação na mesa operatória, o
que facilitou a mudança de posição do paciente
através de Tredelemburg, movimentos laterais e
outros (Figura 1 e 2).
|
|
|
Figura 1 - As quatro partes do último modelo do afastador. |
|
|
|
Figura 2 - Afastador montado, mostrando o formato em arcos que elevará a parede abdominal. |
Um detalhe de importância neste afastador é sua forma em arco. Ao elevar a parede
abdominal produz uma cavidade cilíndrica, ao invés de
outros afastadores que formam uma cavidade
cônica diminuindo o continente o que permitia com
que as alças de delgado dificultassem a cirurgia
(Figuras 3 e 4).
|
|
|
Figura 3 - Introdução do afastador em arco pela incisão. |
|
|
|
Figura 4 - Colocação do afastador em forma de arcos na cavidade abdominal. |
As primeiras cirurgias, com o afastador e a laparoscopia auxiliada pela mão, já mostraram
um método mais seguro e simples do que a
técnica laparoscópica pura, por permitir:
1. Palpação de todos os segmentos da
cavidade abdominal;
2. Avaliação das lesões tumorais e seu grau
de invasão, semelhante à técnica aberta
convencional;
3. Facilidade e segurança nas ligaduras
vasculares, pois a identificação dos vasos
e a colocação dos clipes puderam ser
acompanhadas e sentidas com os dedos;
4. Rapidez e segurança na hemostasia, além
de limpeza da cavidade;
5. Facilidade no descolamento do reto e do
ângulo esplênico devido à boa visualização
através do vídeo (40 vezes maior);
6. Possibilidade de visão combinada direta
através da incisão e pelo vídeo, facilitan-
do a noção tridimensional;
7. Possibilidade de uso de diversos materiais
convencionais através da incisão.
Algumas dificuldades surgiram neste método. As alças do intestino delgado
se interpuseram com muita freqüência entre a ótica
e o campo operatório apesar do formato do
afastador, provocando embaçamento pela presença
de umidade e sangue na lente o que exigia
freqüente limpeza e conseqüente perda de tempo. Isto
ocorreu pelo fato de não haver a mobilização cranial
do diafragma, quando empregado o afastamento mecânico - ao contrário do que ocorre com
o pneumoperitônio - levando a um menor espaço
para a acomodação das alças.
Este, talvez tenha sido o principal fator limitante para a realização do método. O
problema foi solucionado envolvendo-se o intestino
delgado com uma compressa, sendo mantido afastado mecanicamente pelo uso de uma lâmina
maleável (Figura 5).
|
|
|
Figura 5 - Intestino delgado envolvido por compressas e afastado através de lâmina maleável para o quadrante superior do abdome. |
Outro fator que contribuiu para o embaçamento da ótica foi o escoamento de
sangue pelas paredes da ótica em direção da
cavidade abdominal, na ausência do
pneumoperitônio. Quando se trabalha com a cavidade insuflada
há uma tendência para que o sangue acumulado
nas válvulas saia e não retorne. A solução foi o uso
de trocartes de tórax sem o sistema valvulado, o
que diminuiu a quantidade de sangue acumulado em seu interior, permitindo uma limpeza sistemática
da ótica.
Padronização da Cirurgia Laparoscópica com Acesso Manual
A Incisão
Nos dois primeiros casos realizamos uma incisão longitudinal suprapúbica com 7.5 cm
de extensão interessando todos os planos
(pele, subcutâneo, aponeurose e peritônio). Esta
incisão permitiu um bom acesso da mão e a realização
com segurança destas cirurgias, pois caso
houvesse necessidade de conversão do método
bastaria ampliá-la. No aspecto estético, contudo,
não proporcionava os mesmos resultados das
incisões transversas. A partir do terceiro caso utilizamos
a incisão de Pffanenstiel modificada, com abertura
de pele no sentido transversal em região
suprapúbica (dois centímetros acima do púbis)
incisando longitudinalmente aponeurose e peritônio
após descolamento parcial do subcutâneo.
Constatamos que, esta última incisão foi mais adequada
sendo, portanto, a escolhida como padrão para todas
as cirurgias posteriores (Figura 6).
|
|
|
Figura 6 - Incisão de Pfannenstiel modificada com afastador entrando na cavidade abdominal. |
Os primeiros casos operados com a
incisão transversa apresentaram infecção ou seroma
de subcutâneo, tendo sido necessária sua
drenagem através de retirada de um ponto de pele, sem
que houvesse comprometimento quanto ao resultado estético da cicatriz, ou aumento do tempo
de internação, pois se tratavam de coleções de
pequeno volume. Nas cirurgias subseqüentes verificamos
que o descolamento aumentado de subcutâneo foi
o causador destas complicações, tendo
sido solucionado com menor descolamento em direção
a cicatriz umbilical em forma de funil, o que
reduziu o espaço morto. No fechamento de parede, ao
final da cirurgia, também passamos a realizar
aproximação do subcutâneo.
Portas Laparoscópicas
Foram utilizadas três portas. Entretanto,
a posição das mesmas sofreu modificações no
decorrer do tempo. As posições que se mostraram
mais adequadas, foram: 1) uma na cicatriz umbilical;
2) outra lateral esquerda, ao mesmo nível na
linha hemiclavicular; e 3) outra lateral direita 4cm
abaixo da cicatriz umbilical, na fossa ilíaca direita,
abaixo do elevador mecânico.
A passagem dos trocartes foi monitorada pela ótica introduzida através da incisão
suprapúbica, auxiliada com uso de lâmina maleável para
proteção de alças e estruturas vasculares (Figura 7).
|
|
|
Figura 7 - Posição das portas e do afastador na parede abdominal. |
Posição do Paciente
Todos os pacientes foram colocados na posição de Lloyd-Davies. Isto permitiu um
fácil acesso abdominal, um melhor posicionamento
do auxiliar, facilitando o acesso do cirurgião em
tempos perineais, quando necessário. O braço direito
do paciente foi colocado em posição de adução a
fim de permitir liberdade nos movimentos do
auxiliar que manipula a ótica. Não houve necessidade
de fechamento do braço períneo, entre as pernas
do paciente.
O Primeiro Auxiliar
Localizado à direita do paciente,
em posição mais cranial, operando a ótica com a
mão esquerda. Com a mão direita opera o
instrumental através da porta em flanco direito.
Importante observar a necessidade de adução do
membro superior direito do paciente para facilidade
de manuseio da ótica. Em algumas circunstâncias
a ótica permite melhor visualização quando
colocada através da incisão, mesmo que a mão do
cirurgião esteja introduzida, por exemplo, no
descolamento do ângulo esplênico.
O Segundo Auxiliar
Na maior parte do tempo posicionado no períneo, auxiliando a instrumentação com
os afastadores, com a limpeza da ótica, e com
a aspiração.
O Instrumentador
Posicionado no períneo (lateralizado
à esquerda) entre o cirurgião e o segundo
auxiliar (Figura 8).
|
|
|
Figura 8 - Equipe cirúrgica colocada com o paciente em posição. C=Cirurgião; A=Câmera; B=Segundo Auxiliar; I=Instrumentadora; M=Monitores. |
Preparo do Campo Operatório e
Inventário da Cavidade Abdominal
A padronização empregada foi:
1.Proteção de subcutâneo com
campo operatório ou plástico.
2.Colocação do afastador mecânico
e elevação da parede abdominal, seguido
de introdução dos trocartes, o que é acompanhado
pela ótica introduzida através da incisão
abdominal. Neste tempo, as alças intestinais são
protegidas através lâmina maleável.
3.Palpação de todas as vísceras
com inventário sistematizado da cavidade. Palpação
da lesão tumoral com avaliação do tamanho,
infiltração e metástases ganglionares.
4.Conclusão do inventário, seguido
de afastamento das alças de intestino
delgado, envolvendo-as com uma compressa e
elevando cranialmente o conjunto com uma lâmina maleável.
ESTUDO COMPARATIVO
Padronização da Técnica Laparoscópica
Inicialmente, realizamos a padronização
da técnica e o treinamento da equipe através
da realização de 40 cirurgias em suínos adultos do
sexo feminino (30 a 40Kg). A seguir, foram
realizadas quatro cirurgias, em pacientes: 02
sigmoidectomias (doença diverticular e adenoma viloso),
01 colectomia total (retocolite ulcerativa) e 01 ressecção abdomino-perineal (tumor de reto
baixo) que mostraram aparente vantagem, embora sem significado estatístico.
Foi, então, realizado um estudo
clínico comparativo entre a cirurgia laparoscópica
vídeo-assistida com acesso manual (pelo método
proposto) e a cirurgia convencional laparotômica.
Esta análise comparativa teve como
objetivo básico o estudo das diferenças relativas ao
ato operatório e ao período pós-operatório recente
(até 30 dias).
Escolhemos o tratamento cirúrgico do
câncer do reto, como método padrão, por se tratar de
uma cirurgia de maior dificuldade técnica, além
de apresentar tempos cirúrgicos já bem definidos.
Em todos os tumores localizados abaixo da
reflexão peritoneal realizamos a excisão total do
mesoreto conforme preconizado por HEALD (1982)
28, 29, 30, 31.
Realizamos dois tipos de cirurgias, a ressecção anterior de reto (RAR) e a
ressecção abdomino-perineal (RAP).
Definição da Amostra e Seleção dos Pacientes
Após estudos para o modelo estatístico
do trabalho concluiu-se serem necessários 17 casos
para cada grupo.
Foram avaliados 74 pacientes portadores de câncer colo-retal entre Janeiro de 1995 e
Outubro de 1998. Os 34 casos, analisados neste estudo,
foram escolhidos entre aqueles cujos tumores
fossem ressecáveis e que não apresentassem
complicações pré-operatórias (como fístulas, aderências
tumorais ou doenças sistêmicas) que pudessem prejudicar
a avaliação da recuperação pós-operatória imediata.
Todos os pacientes foram consultados e, devidamente esclarecidos da
randomização, autorizaram a execução de todos os
procedimentos clínicos e cirúrgicos propostos.
Os 34 pacientes foram distribuídos em
dois grupos de 17. O grupo A foi submetido à
cirurgia laparoscópica combinada e o grupo B à
cirurgia laparotômica.
Esta distribuição foi randomizada e
sorteada antes de cada cirurgia. Não houve critérios de
seleção quanto ao sexo, cor, idade, localização ou
tamanho do tumor. Dividimos as variáveis a serem
analisados em pré, per e pós-operatórias, como segue:
Variáveis Pré-operatórias
1. Sexo
2. Idade
3. Hemoglobina sérica em ng/ml
4. Albumina sérica em ng/ml
5. Risco cirúrgico pelo índice da American
Society of Anestesiology (ASA)
6. Localização do tumor
Variáveis Operatórias
a. Tempo cirúrgico em minutos
b. Sangramento classificado em 4 graus.
Grau 1 (menor 200 ml), Grau 2 (entre
200 ml e 500 ml), Grau 3 (entre 500 e
1500 ml) e Grau 4 (maior que 1500 ml).
Foram excluídos os pacientes do Grupo 4
c. Invasão adjacente.
d. Localização e tamanho do tumor
e. Classificação de Dukes (TNM)
Variáveis Pós-operatórias
1. Início de peristaltismo em horas
2. Início de eliminação de gases em horas
3. Início das evacuações em horas
4. Início da alimentação em horas
5. Tempo de internação em dias
6. Presença de náuseas ou vômitos
7. Presença de distensão abdominal
8. Complicações da ferida
9. Dor pós-operatória, classificada em três
graus.
A avaliação da dor pós-operatória foi
difícil por ser este sintoma muito variável de paciente
para paciente, além de muito subjetiva. Desta
forma, estabelecemos uma rotina de analgesia
pós-operatória e a quantificação da dor avaliada
pelo paciente foi de intensidade de 1 a 3,
conforme solicitação e uso de analgésico além da
analgesia regular, sendo assim registrada: Grau 1:
nenhuma dor ou leve, não exigindo o uso de analgésico;
Grau 2: dor de intensidade leve a média, mas
com solicitação de analgésico; Grau 3: dor
intensa exigindo necessidade de uso de analgésico
adicional, regularmente.
RESULTADOS
Dados Pré-operatórios
Em relação à idade não
observamos diferenças significativas entre os dois grupos.
Contudo, quanto ao gênero o grupo A mostrou uma predominância do sexo feminino,
não observada no grupo B. Embora esta diferença
não tenha sido muito significativa (p=0.0776)
é importante salientar que a cirurgia em pacientes
do sexo feminino é um pouco mais fácil devido
ao tamanho da pelve.
O nível protéico sérico, a dosagem
de hemoglobina e o risco cirúrgico (ASA)
não mostraram diferenças significativas. Desta forma,
a não ser pela variável sexo, não houve
diferença significativa nos dados pré-operatórios que
pudessem interferir na análise pós-operatória dos dois grupos.
Dados do Ato Operatório
O tempo cirúrgico,
o tipo de cirurgia, a classificação TNM e a localização do tumor não
apresentaram diferenças significativas.
No que diz respeito ao sangramento, se for analisado de forma global, também não apresentou
diferenças significativas. Contudo, uma
análise individual a este respeito, demonstrou:
a) Nível 1 (sangramento < 200ml) - nenhum
paciente do grupo B foi incluído, enquanto
23.5% dos casos do grupo A o foram;
b) Nível 2 (sangramento entre 200 e 500
ml) - os dois grupos se assemelharam;
c) Nível 3 (sangramento entre 500 e 1500ml)
- encontramos 17.7% dos casos do grupo A
contra 41.2% dos casos do grupo B. Portanto,
o volume de sangramento foi menor no grupo
A (Tabela 1).
Tabela 1 - Sangramento Pós-operatório (*)
| ||||||||||||||||||||
Em relação à facilidade técnica para
a realização do procedimento, observamos uma
curva de aprendizado em que, após a oitava cirurgia,
o tempo e as dificuldades se assemelharam nos dois grupos.
Dados do Pós-operatório
No período pós-operatório o início
do peristaltismo, o momento da eliminação de gases
e a evacuação foram significativamente mais
rápidos no grupo A (Tabelas 2, 3 e 4).
Tabela 2 - Início do Peristaltismo (horas)
| Média | Variância | Mínimo | Máximo | Mediana | |
| Grupo A | 26.824 | 63.529 | 24.000 | 48.000 |
24.000 |
| Grupo B | 56.471 | 1435.765 | 24.000 | 192.000 | 48.000 |
|
p=0.003724 |
|||||
Tabela 3 - Início da eliminação de gases (horas)
| Média | Variância | Mínimo | Máximo | Mediana | |
| Grupo A | 38.118 | 220.235 | 24.000 | 72.000 |
24.000 |
| Grupo B | 79.059 | 2215.059 | 24.000 | 216.000 | 48.000 |
|
p=0.0004397 |
|||||
Tabela 4 - Início das Evacuações (horas)
| Média | Variância | Mínimo | Máximo | Mediana | |
| Grupo A | 53.647 | 398.118 | 24.000 | 96.000 |
48.000 |
| Grupo B | 96.000 | 2808.000 | 24.000 | 240.000 | 72.000 |
|
p=0004397 |
|||||
O tempo de início de alimentação no
grupo A foi um pouco menor, embora significante
(Tabela 5). Isto provavelmente se deveu ao fato de
termos iniciado mais precocemente a alimentação em
alguns pacientes do grupo B, baseados no trabalho
de BINDEROW (1994) 32.
A ocorrência de vômito e de
distensão abdominal foi semelhante nos dois grupos. O
tempo de internação foi significati-vamente menor
no grupo A do que no grupo B (Tabela 6). A dor
pós-opertória também foi significati-vamente menor
no grupo A (Tabela 7).
Tabela 5 - Início da alimentação (dias)
| Média | Variância | Mínimo | Máximo | Mediana | |
| Grupo A | 58.588 | 244.882 | 24.000 | 72.000 |
72.000 |
| Grupo B | 96.000 | 4536.000 | 48.000 | 336.000 | 72.000 |
|
p=0.031032 |
|||||
Tabela 6 - Tempo de Internação (dias)
| Média | Variância | Mínimo | Máximo | Mediana | |
| Grupo A | 6.824 | 8.804 | 4.000 | 13.000 |
5.000 |
| Grupo B | 11.294 | 19.596 | 7.000 | 23.000 | 10.000 |
|
p=001788 |
|||||
Tabela 7 - Dor Pós-operatória (*)
| ||||||||||||||||||||
As complicações da ferida,
analisadas globalmente, não apresentam diferenças
signifi-cativas. Contudo, a análise baseada na gravidade
e no tipo de complicação, revelou outros
resultados. No grupo A as nove complicações
foram representados por pequenos abscessos (4 casos),
pequenos seromas (4 casos) e um caso de
deiscência de aponeurose, facilmente corrigida. Com
exceção deste último caso as complicações não
interferiram no tempo de internação nem na morbidade
pós-operatória. Já no grupo B, as cinco
complicações foram representadas por três casos de abscesso graves
de subcutâneo, um caso de evisceração e um
caso de pequeno abscesso. Os quatro primeiros
casos deste grupo aumentaram significativamente o
tempo de internação e a morbidade.
DISCUSSÃO
A laparoscopia trouxe grandes avanços em determinadas cirurgias abdominais, como
a colecistectomia, a hernioplastia, a
apendicectomia, cirurgias ginecológicas, etc. Em geral,
suas vantagens estão especialmente representadas
pela redução do tempo de internação, da morbidade
pós-operatória, das complicações da ferida
cirúrgica, além de permitir retorno precoce às
atividades. Alguns trabalhos têm demonstrado que
estes resultados se devem, principalmente, a uma
menor agressividade do método. Verificações
laboratoriais têm sugerindo menor resposta endócrino-metabólica.
Atualmente, existe uma grande preo-cupação com o padrão imunológico dos
pacientes no período pós-operatório. Tem sido
demonstrado que o método laparoscópico proporciona
melhor competência imunológica. Provavelmente este
fato se deve a um menor trauma operatório.
Diversos trabalhos também têm mostrado
as diferenças da resposta endócrina e metabólica
ao trauma em relação ao tamanho da incisão
operatória e da sua localização.
Por outro lado, o desenvolvimento da cirurgia laparoscópica colo-retal não teve a
mesma aceitação. Os principais fatores se deveram a
uma maior dificuldade técnica com aumento do
tempo operatória e demorada curva de aprendizado.
Nos casos de cirurgias para câncer colo-retal,
aspectos relacionados à palpação, estagiamento operatório
e recidiva nas portas, criaram novas limitações.
Com o objetivo de minimizar os efeitos indesejáveis do pneumoperitônio com
CO2, tais como as deficiências da palpação intraabdominal
e as dificuldades técnicas do método
laparoscópico, propusemos um acesso manual combinado,
permitido pela elevação mecânica da parede abdominal
em substituição ao pneumoperitônio com
CO2. Este acesso manual se faz através de pequena
incisão suprapúbica.
As cirurgias se mostraram de realização
bem mais simples do que aquelas pelo método laparoscópico puro, além de permitirem
maior segurança na sua realização. Na seqüência
do estudo, se mostrou necessário avaliar suas
vantagens em relação ao método laparotômico
convencional, visto ser necessária uma incisão suprapúbica para
a entrada da mão ao se empregar a técnica proposta.
Basicamente, decidiu-se avaliar dois aspectos gerais. Evolução pós-operatória
dos primeiros 30 dias, além do seguimento de 05
anos para as cirurgias de câncer. Neste primeiro
trabalho fizemos apenas a avaliação clínica pós-operatória
dos primeiros 30 dias. Foi escolhida a
terapêutica cirúrgica do câncer de reto onde se realizaram
dois tipos de cirurgia: 1) a ressecção anterior de reto;
2) a ressecção abdomino-perineal.
Os resultado desta série randomizada mostrou similaridade nas características clínicas
pré-operatória dos dois grupos, sem
diferenças significativas relacionadas ao método
operatório como tempo, dificuldade técnica e sangramento.
No período pós-operatório foram
observadas significativas vantagens clínicas no grupo
A (laparoscopia com acesso manual). Não
foram, evidentemente, avaliados alguns dados
laboratoriais que poderiam mostrar com maior detalhe a
resposta endócrino-metabólica como a dosagem de
Proteína C reativa, Interleucina 6 e Glucagon, assim
como também não foi realizada avaliação imunológica
pós-operatória. Este é objeto de novo trabalho
em andamento em nosso Departamento. Contudo, os resultados clínicos sugerem fortemente
vantagens na técnica.
CONCLUSÃO
Em resumo, a técnica laparoscópica com acesso manual combinado apresentou vantagens clínicas pós-operatórias imediatas (até 30 dias) sobre o método laparotômico para cirurgias de câncer do reto.
ABSTRACT
OBJECTIVES: The aim of this study is to
demonstrate the technical viability and clinical advantages of
the laparoscopic assisted surgery with manual access,
in colorectal surgery. A mechanical abdominal wall elevator, that allowed laparoscopic assisted
surgery with manual access and no pneumoperitoneum,
was valuated. MATERIALS AND METHODS: The device _
a mechanical elevator _ was developed by the
authors in the Experimental Surgery Department of the
Federal University of Rio de Janeiro, in 1995, to keep
the abdominal wall elevated and make possible to use
the hand in the laparoscopic surgery. A
comparative randomized study was carried in the Colorectal
Section, in Federal University of Rio de Janeiro, in order
to evaluate the clinical advantages of the
technique comparing with conventional surgery. Between
January 1995 and October 1998 thirty four (34) colorectal
cancer patients had been operated, divided in two groups
(A and B), and clinically evaluated in the thirty days
post operative period. In the Group A, 17 patients have
been operated by laparoscopic assisted surgery with
manual access and using the device. In Group B, 17
patients has been operated by conventional surgery. In the
major cases of the Group A a 7.5 cm Pffaniestiell
incision was used. Two surgical techniques had been
used: anterior resection of rectum and Miles surgery.
There were statistically analyzed the data of per
and postoperative. RESULTS: The technique allowed
best evaluation of the abdomen and the tumor using
the hand. Blood loss was lesser in the Group A., and
the re-introduction of diet and return of peristalse was
faster in group A than in group B. Also postoperative
pain was less intense in A. Clinical and operative complications had been less in this
group. CONCLUSIONS: The laparoscopic assisted
technique with aid of manual access, and without pneumoperitoneum using the special device for
rise of the abdominal wall, presented immediate postoperative clinical advantages when compared
with the conventional method, on colorectal cancer treatment.
Keywords: LAPAROSCOY/instrumentation/methods/adverse effects; COLORECTAL SURGERY/methods;
COLORRECTAL NEOPLASMS/surgery; COLON/surgery;
RECTUM/surgery; PROSPECTIVE STUDIES/Rio de Janeiro.
Referências Bibliográficas
1. Wexner SD, Johansen OB. Laparoscopic Bowel
Resection: Advantages and Limitations. Ann Med 1992;24:105-110.
2. Wexner SD, Johansen OB, Nogueras JJ. Laparoscopic
total abdominal colectomy. A prospective trial. Dis Colon
Rectum 1992;35:651-655.
3. Pappas TN. Laparoscopic Colectomy. Innovations
continues. (Editorial). Ann Surg 1992;216:701-702.
4. Nogueras JJ, Wexner SD. Laparoscopic colon resection.
Perspect Colon Rectal Surg 1992;5:79-97.
5. Regadas FSP, Nicodemo AM, Rodrigues LV, Garcia
JHP, Nóbrega AGS. Anastomose colorectal por via
laparoscópica. Apresentação de dois casos e descrição da técnica
operatória. Rev bras colo-proct 1992;12:21-23.
6. Pandini LC, Gonçalves CA. Fechamento de colostomia
pós Hartmann assistida por videolaparoscopia. Experiência
inicial. Rev bras colo-proct 1995;15:65-67.
7. Falk PM, Beart Jr RW, Wexner SD, Thorson AG,
Jagelman DG, Lavery IC, Johansen OB, Fitzgibbons RJ.
Laparoscopic colectomy: A critical appraisal. Dis Colon
Rectum 1993;35:28-34.
8. Cutait R, Borges JLA, Correa PAP, Averbach M, Carone
Filho E. Cirurgia colorretal por via laparoscópica. Experiência
inicial. Rev bras colo-proct 1994;14:172-174.
9. Jacobs M, Verdeja JC, Goldstein HS. "Minimal invasive
colon ressection (Laparoscopic colectomy)". Surg Laparosc
Endosc 1992;1:145-150.
10. Beart Jr RW. Laparoscopic colectomy: Status of the art.
Dis Colon Rectum 1994; 37(Suppl):S47-S49.
11. Olsen D, Patelin J, Kelley Jr W, Green F. The editor's
comment. Laparoscopy in Focus 1992;1:1-12.
12. Ramos JR, Pinho M, Polania F. Promontofixação do reto
por via laparoscópica. Rev bras colo-proct 1993;13:5-6.
13. Scoggin SD, Frazee RC, Synder SK, Hendricks JC, Roberts
JW, Symmonds RE, Smith RW. Laparoscopic - Assisted bowel
surgery. Dis Colon Rectum 1993;36:747-750.
14. Sosa JL, Sleeman D, Puente I, Mckenney MG, Hartmann
R. Laparoscopic - Assisted colostomy closure after
Hartmann's procedure. Dis Colon Rectum 1994;47:149-152.
15. Marchesini JB. Comissão nacional de videocirurgia do
CBC. Consenso sobre a videocirurgia. Boletim informativo
CBC 1995;89.
16. Simons AJ, Anthone GJ, Ortega AE, Franklin M, Fleshman
J, Geis WP, Beart Jr RW. Laparoscopic-Assisted
Colectomy Learning Curve. Dis Colon Rectum 1995;38:600-603.
17. Kmiot WA, Wexner SD. Laparoscopy in colorectal surgery: a
call for careful appraisal. British Journal of Surgery 1995;82:25-26
18. Wexner SD, Cohen SSM, Ulrich A, Reissman P.
Laparoscopic colorectal surgery - Are we being honest with our patients?
Dis. Colon Rectum 1995;38:723-727.
19. Orkin BA. Laparoscopic Colorectal Surgery. Letters to
the Editor. Dis Colon Rectum 1993;35:614-615.
20. Ou H. Laparoscopic-assisted mini laparotomy with
colectomy. Dis Colon Rectum 1995;38:324-326.
21. Paolucci V, Gutt CN, Schaeff B, Encke A. Gasless
laproscopy in abdominal surgery. Surg Endosc1995;9:497-500.
22. Kusminsky RE, Boland JP, Tiley EH, Deluca JA.
Hand-assisted laparoscopic splenectomy. Surg Laprosc
Endosc 1995;5:463-467.
23. Bemelman WA, RingersJ, Meijer DW, de Wit
CWM, Bannenberg JJG. Laparoscopic-assisted colectomy with
the Dexterity TM Pneumo Sleeve. Dis Colon
Rectum 1996;39:S59-S61.
24. Scott HJ, Darzi A. Tactile feedbabck in laparoscopic
colonic surgery. Br J Surg 1997;84:1005.
25. Watson DI, Matheus G, Ellis T, Balgrie CF, Rofe
AM, Jamieson G. Gasless laparoscopy may reduce the risk
of port-site metastases following laparoscopic tumor
surgery. Arch Surg 1997;132:166-169.
26. Lehmann LJ, Lewis MC, Goldman H, Marshall
JR. Cardiopulmonary complications during laparoscopy: Two
case reports. Southern Medical Journal 1995;88:1072-1075.
27. Windeberger U, Siegl H, Woisetschalager R, Schrenk P,
Podesser B, Losert U. Hemodynamic changes during
prolonged laparoscopic surgery. Eur Surg Res 1995;26:1-9.
28. Heald RJ, Husband EM, Ryall RDH. The mesorectum in
rectal cancer surgery - the clue to pelvic recurrence? Br J
Surg 1982;69:613-616.
29. Heald RJ. The `Holy Plane' of rectal surgery. Journal of
Royal Society of Medicine 1988;81:503-508.
30. MacFarlane JK, Ryall RDH, Heald RJ. Mesorectal excision
for rectal cancer. Lancet 1993;341:457-460.
31. Heald RJ, Chir M, Smedh RK, Kald A, Sexton R, Moran
BJ. Abdominoperineal excision of the rectum - An
endangered operation. Dis Colon Rectum 1997;40:747-751.
32. Binderow SR, Cohen SM, Wexner SD, Nogueras JJ. Must
early postoperative oral intake be limited to laparoscopy? Dis
Colon Rectum 1994;37:584-589.
33. Fukushima R, Kawamura YJ, Saito H, Saito Y, Hshiguchi
Y, Sawada T, Muto T. Interleukin-6 and stress hormone
responses after complicated gasless laparoscopic-assisted and open
sigmoid colectomy. Dis Colon Rectum 1996;39:S29-S34.
34. Sakamoto K, Arakawa H, Mita S et al. Elevation
circulating interleukin 6 after surgery: factors influencing the serum
level. Cytokine 6 1994;181-186.
35. Kawamura YJ, Saito H, Sawada T, Muto T, Nagai
H. Laparoscopic-assisted colectomy and linphadencectomy
without peritoneal insufflation for sigmoid colon cancer patients.
Dis Colon Rectum 1995;38:550-552.
36. Mealy K, Gallagher H, Barry M, Lennon F, Traynor O,
Hyland J. Physiological and metabolic response to open and
laparoscopic cholecystectomy. Br J Surg 1992;79:1061-1064.
37. Harmon GD, Senagore AJ, Kilbride MJ, Warzynski
MJ. Interleukin-6 response to laparoscopic and open
colectomy. Dis Colon Rectum 1994;37:754-759.
38. Jakeways.MS, Mitchell V, Hashim IA et al. Metabolic
and inflammatory responses after open or
laparoscopic cholecystectomy. Br J Surg 1994;81:127-131.
39. Ueo H, Honda M, Adachi M et al. Minimal increase in
serum interleukin-6 levels during laparoscopic cholecystectomy.
Am J Surg 1994;168:358-360.
40. Kloosterman T, von Blomberg BM, Borgstein P, Cuesta
MA, Scheper RJ, Meijer S. Unimpaired immune functions
after laparoscopic cholecystectomy. Surgery 1994;115:424-428.
41. Redmond HP, Watson RW, Houghton T, Condron C,
Watson RG, Bouchier HD. Immune function in patients
undergoing open vs laparoscopic cholecystectomy. Arch
Surg 1994;129:1240-1246.
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
João de Aguiar Pupo Neto
Rua José Carlos Pace, 1046
Jacarepaguá - Rio de Janeiro
Rio de Janeiro - Brasil
CEP 22.750-500
e-mail: joaopupo@iis.com.br
(1) Professor Adjunto do Departamento de Cirurgia, Disciplina de Coloproctologia, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.
(2) Professor Adjunto do Departamento de Cirurgia, Disciplina de Coloproctologia, Faculdade de Medicina, UFRJ / Chefe do Serviço de Coloproctologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.
Recebido em 15/05/2003
Aceito para publicação em 15/06/2003
* Artigo baseado na tese de doutorado: Cirurgia Videolaparoscópica com Acesso Manual Combinado:
Estudo comparativo com as técnicas convencionais no
tratamento cirúrgico do câncer de reto. Faculdade de Medicina,
UFRJ, 1999.